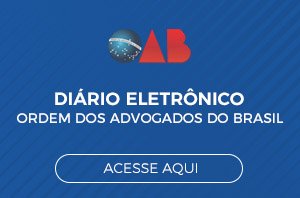Radiografia das desigualdades no Brasil
Brasília, 12/06/2003 - Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (12/06)pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)revela que o País continua a conviver com uma quadro de profundas desigualdades sociais.
Abaixo, as principais conclusões do trabalho:
Síntese de Indicadores Sociais
A Síntese de Indicadores Sociais 2002, lançada pelo IBGE, confirma que o traço mais marcante da sociedade brasileira é a desigualdade. A melhora dos indicadores foi generalizada, sobretudo os de saúde, educação e condição dos domicílios, mas a distância entre os extremos ainda é muito grande. Na desigualdade por gênero, as mulheres ganham menos que os homens em todos os estados brasileiros e em todos os níveis de escolaridade. Elas também se aposentam em menor proporção que os homens e há mais mulheres idosas que não recebem nem aposentadoria nem pensão.
Negros e pardos recebem metade do rendimento de brancos em todos os estados (sobretudo nas regiões metropolitanas de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba) e nem o aumento do nível educacional tem sido suficiente para superar a desigualdade de rendimentos. Os dados mostraram, ainda, que a desigualdade por cor era mais forte que por gênero, pois os homens pretos e pardos ganhavam, em 2001, 30% a menos que as mulheres brancas. Do total de pessoas que faziam parte do 1% mais rico da população, 88% eram de cor branca, enquanto que entre os 10% mais pobres, quase 70% se declararam de cor preta ou parda.
O 1% mais rico da população acumula o mesmo volume de rendimentos dos 50% mais pobres e os 10% mais ricos ganham 18 vezes mais que os 40% mais pobres. Metade dos trabalhadores brasileiros ganha até dois salários mínimos e mais da metade da população ocupada não contribui para a Previdência.
As desigualdades de rendimento acarretam muitas outras: 80% dos domicílios dos 10% mais ricos têm saneamento adequado, contra um terço dos 40% mais pobres; existem mais de 30% de empregados sem carteira entre os 40% mais pobres e apenas 8% entre os 10% mais ricos; o percentual de estudantes de nível superior, de 20 a 24 anos, também é bastante desigual nos dois grupos, de 23,4% e de 4%, respectivamente.
Houve ligeiras reduções da desigualdade de renda em todas as regiões, exceto na Sudeste, entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres. A maior redução de desigualdade ocorreu na região Sul. Entre os estados, Paraíba, Sergipe e Amapá foram os que mais reduziram as distâncias entre os rendimentos médios dos dois grupos.
A região Nordeste apresentou a menor taxa de contribuição previdenciária. Lá, 27,7% dos ocupados contribuem para a previdência, contra 56,7% na região Sudeste. Em 37% dos domicílios nordestinos, contra 12% no Sudeste e no Sul, a renda per capita é de até meio salário-mínimo. No Norte, Nordeste e Centro-Oeste, apenas metade dos domicílios urbanos possuía acesso a rede geral de esgoto ou a fossa séptica. Entre as regiões metropolitanas, os percentuais variam de 54,1% em Recife para 92,8% em Porto Alegre. No País, a proporção de domicílios com saneamento considerado adequado era de 62,2%, mas na região Norte era de 11,3% e no Sudeste, de quase 85%.
A Síntese revela, ainda, que 35% das 27,3 milhões de famílias que tinham pelo menos uma criança de até 14 anos de idade, em 2001, tinham rendimento per capita de meio salário-mínimo. Entre os estados, os percentuais variavam de 61,6%, no Maranhão, a 15,5% em São Paulo.
Além de mostrar a redução do trabalho infantil, que caiu de 19,6% das pessoas de 5 a 17 anos de idade para 12,7% em 2001, ela constatou que 75% desses jovens trabalhadores são responsáveis por até 30% do orçamento de suas famílias. A Síntese de Indicadores Sociais 2002 traz ainda outros temas: evolução populacional, mortes por causas violentas, atraso escolar, longevidade, gastos com saúde, numa ampla análise do comportamento e das condições sócio-econômicas da população brasileira, constatando, por exemplo, que a família brasileira está diminuindo, ao mesmo tempo que cresce a proporção de núcleos familiares liderados por mulheres. Nas duas últimas décadas, houve um aumento da proporção de pessoas que moram sozinhas, das quais cerca de 40% tem 60 anos ou mais e, em 2001, os brasileiros casaram-se menos e mais tarde que em 1991, enquanto o número de divórcios e de separações se manteve estável na década.
Mulheres ganham menos e se aposentam em menor proporção do que os homens
A Síntese dos Indicadores Sociais de 2001 traz um perfil da mulher brasileira, com dados sobre escolaridade, média de filhos, ocupação, rendimento, posição nos diferentes tipos de família e situação na previdência social. Quando o assunto é escolaridade e rendimento do trabalho (tabela 11.4), as diferenças entre homens e mulheres são expressivas. Mesmo que ambos tenham a mesma média de anos de estudo, os homens ganham mais que as mulheres. Essa desigualdade de rendimentos se mantém em todos os estados e regiões, e em todas as classes de anos de estudo: tanto as mulheres com grau de escolarização igual ou inferior a 3 anos de estudo ganham menos (61,5%) que os homens com o mesmo grau de escolaridade; quanto as mulheres com maior grau de escolarização (11 anos ou mais de estudo) ganham menos (57,1% do que ganham os homens desta faixa) (gráfico 11.4).
Em relação às pessoas ocupadas por grupos de idade, observa-se que nas faixas de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos, a distribuição de mulheres trabalhando é maior do que a de homens na mesma faixa etária (26,5% e 20,8% contra 24,5% e 19,1%, respectivamente).
71,3% da mulheres que trabalham ganham até dois salários mínimos
As informações sobre o rendimento do trabalho confirmam que as mulheres têm remuneração inferior a dos homens. A população feminina ocupada concentra-se nas classes de rendimento mais baixas: 71,3% das mulheres que trabalham recebem até 2 salários mínimos, contra 55,1% dos homens. A desigualdade salarial aumenta conforme a remuneração. A proporção de homens que ganham mais de 5 salários mínimos é de 15,5% e das mulheres, 9,2%. A diferença entre homens e mulheres permanece em todas as regiões do país. No Sudeste, 61,1% das mulheres ganham até 2 salários mínimos e no Sul, essa proporção é 72,0%. Entre os homens, as proporções nessas regiões são 41,8% e 49,1%, respectivamente.
A proporção de mulheres dedicadas aos trabalhos domésticos (19,2%) e que não recebem remuneração (10,5%) é bem maior do que a dos homens (0,8% e 5,9%, respectivamente). Há mais mulheres trabalhando como militares ou estatutárias (9,3%) do que homens (5,1%), o que pode ser explicado pela grande quantidade de mulheres profissionais de saúde e educação do setor público, incluídas nessa categoria. Mais de 70% da população feminina ocupada concentra-se em atividades do setor de serviços (prestação de serviços, prática do comércio, da administração pública e outros serviços). A distribuição dos homens é mais homogênea, destacando-se a atividade agrícola, que reúne quase ¼ da população masculina ocupada do país.
Renda das famílias com filhos é menor
Em se tratando do tipo de arranjo familiar, nas famílias em que o homem é a pessoa de referência, os tipos de família mais freqüentes são "casal com filhos" (70,9%) e "casal sem filhos" (18,2%). Nas famílias em que a mulher é a referência, predominam as sem cônjuge e com filhos (65,1%), seguidas do tipo unipessoal (17,1%). Observa-se que, independentemente do sexo da pessoa de referência, as famílias com filhos têm as mais baixas médias de rendimento familiar per capita.
As do tipo "casal com filhos", chefiadas por homens, têm rendimento médio de R$295,80, e as chefiadas por mulheres "sem cônjuge com filhos", R$263,90
Mais de 1,6 milhão de mulheres acima de 60 anos de idade ainda trabalham
A pesquisa revela também que há uma grande proporção de pessoas de 60 anos ou mais que não recebem aposentadoria e nem pensão: 20,4% homens e 24,6% mulheres. Muitos destes ainda continuam no mercado de trabalho, têm algum outro tipo de rendimento (aluguéis, por exemplo) ou são dependentes de outras pessoas. Entre as mulheres de 60 anos ou mais, 1,6 milhão (40,9%) ainda trabalham. Entre as que possuem aposentadoria e/ou pensão, 17,3% estão ocupadas, contra 23,6% das que não possuem nenhum desses benefícios (Tabela 11.13). Nos homens, os percentuais são, respectivamente, 36,3% e 77,2%.
7,3% das jovens de 15 a 17 anos têm, pelo menos, um filho
Os dados também revelam índices altos de gravidez na adolescência, uma vez que, entre as jovens de 15 a 17 anos, a proporção de mulheres com, pelo menos, um filho é de 7,3% no país. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, esse índice chega a 4,6% e na região metropolitana de Fortaleza, 9,3%. Na comparação com as pesquisas anteriores, Maranhão, Ceará e Paraíba continuam apresentando altas proporções de jovens adolescentes com filhos.
Quanto à escolaridade da população que trabalha, as diferenças entre homens e mulheres são mais marcantes nas áreas urbanas. No Brasil, as mulheres ocupadas nessas áreas têm, em média, um ano de estudo a mais que os homens. No Nordeste, as mulheres chegam a ter quase um ano e meio de diferença na escolaridade em relação aos homens. Nas áreas rurais, porém, apesar da média de anos de estudo das mulheres também ser superior à da população masculina ocupada, ela não é tão significativa. Nas áreas urbanas, as mulheres ocupadas têm, em média, 8 anos de estudo, ou seja, o ensino fundamental completo.
O perfil de escolaridade das mulheres que trabalham é diferente do masculino. Enquanto 59,2% dos homens ocupados têm até 7 anos de estudo, nas mulheres essa proporção é menor: 49,1%. Em quase todas as regiões, mais de um terço (35,4%) das mulheres que trabalham têm, no mínimo 11 anos ou mais de estudo, contra 24,8% dos homens. A única exceção é o Nordeste mas, mesmo aí, elas apresentam proporção superior a dos homens na faixa dos 11 anos ou mais de estudo (26,1% contra 14,6%).
Negros e pardos ocupados recebem metade do rendimento do brancos
Em 2001, o rendimento médio da população ocupada negra e parda ficou em torno de 50% do rendimento dos brancos: os primeiros ganhavam em média 2,2 salários mínimos mensais; entretanto, a média para os brancos era de 4,5 mínimos. Nem o aumento do nível educacional foi suficiente para a superar desigualdades raciais. Justamente entre a população ocupada com 12 anos ou mais de estudo, ou seja, a que já ingressou na faculdade, havia as maiores diferenças. Já entre os trabalhadores domésticos, a diferença de rendimento entre brancos e negros era pouco significativa: R$ 211,91 e R$ 202,34 mensais, respectivamente.
Isso acontecia em todo o Brasil, sobretudo nas regiões metropolitanas de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. A região metropolitana de Porto Alegre, onde a população de negros e pardos ocupados e com 12 anos ou mais de estudo tinha rendimento-hora próximo ao da população branca, era uma exceção. Nessa região, a diferença de anos de estudo entre brancos e negros era de 1,1, a metade da média nacional.
Apesar de ter a maior proporção de negros e pardos do País (82%), a região metropolitana de Salvador se destacava pelas mais altas diferenças por cor: os rendimentos médios da população negra e parda representavam cerca de um terço dos rendimentos da população branca. Em termos de média de anos de estudo, também se encontravam lá as maiores desigualdades. Havia uma diferença de 2,9 anos de estudo entre brancos e negros, enquanto a média nacional era de 2 anos de diferença entre os grupos. Isso acontecia porque, embora as médias de anos de estudo dos negros e pardos, nesta região, fossem bastante elevadas (6,2 e 6,8), os brancos também alcançavam o nível mais elevado do País: nove anos de estudo, o mesmo do Distrito Federal.
O rendimento médio da população ocupada por cor revela que discriminação racial tinha mais força que a de gênero no mercado de trabalho: os homens negros e pardos ganhavam 30% a menos que as mulheres brancas. Em 2001, 13,7% da força de trabalho negra, 9,1% da parda e 6,3% da branca em atividade eram trabalhadores domésticos, em 2001. Como empregadores, estavam 5,8% dos brancos, 1,3% dos negros e 2,3% dos pardos.
Quase a metade de negros e pardos ocupados tinham até quatro anos de estudo (analfabetos funcionais). Em contraste, a proporção de brancos ocupados com 12 anos ou mais de estudo (16,4%) era muito superior a de negros e pardos com os mesmos níveis de instrução (4,5% e 4,4%, respectivamente). Na população ocupada, o grupo com entre 5 e 8 anos de estudo se apresentava como o mais homogêneo em termos raciais.
Do total da população negra ou parda de 15 anos ou mais, 36% eram analfabetos funcionais, ao passo que na população branca, 20% permaneciam nessa condição. Os índices mais elevados foram encontrados no Nordeste, chegando a constituir a maioria da população de pretos e pardos no Piauí, Ceará, Paraíba e Alagoas.
Para a população de 7 a 14 anos, o acesso à escola podia ser considerado praticamente universal em todas as regiões do País e para todos grupos de cor. Na faixa dos 15 aos 17 anos, embora 84% de brancos e 78% de negros e pardos estivessem na escola, os graus de ensino freqüentados variavam: dos estudantes brancos, 60% cursavam o ensino médio, mas dos pretos e pardos, apenas 32%. Para os brancos, a maior freqüência escolar de adolescentes nessa faixa etária podia ser encontrada na região metropolitana do Rio de Janeiro (92,6%) e para negros e pardos, na região metropolitana de Salvador (88%).
No caso da população de 18 e 19 anos, as altas taxas de escolarização no Nordeste, bem mais elevadas que as do Sudeste e Sul, escondiam desigualdades quanto ao grau de ensino cursado.
Nessa faixa, 21,5% dos brancos já estavam cursando educação superior em nível de graduação e 8%, fazendo o pré-vestibular; porém, para negros e pardos esses dados eram de 4,4% e 3,2%, respectivamente.
Na população jovem de 20 a 24 anos, para 53,6% de brancos cursando educação superior, eram apenas 15,8% de negros e pardos, embora o percentual de pré-vestibulandos fosse semelhante (4,9% e 4,3%). No entanto, 44% de negros e pardos ainda cursavam o ensino médio e um percentual bastante elevado (34,2%), cursava o ensino fundamental. Nas regiões metropolitanas de Salvador e São Paulo, bem como no estado de São Paulo, mais da metade de negros e pardos, nesta faixa etária, que estudam, ainda estavam no ensino médio.
Quanto à apropriação da renda nacional, a Síntese indica que entre o 1% mais rico da população brasileira (que detinha quase 14% do rendimento total), 88% eram de cor branca, enquanto que entre os 10% mais pobres (que detinham apenas 1% do rendimento total), 68% se declararam de cor negra ou parda.
Metade dos trabalhadores brasileiros ganha até dois mínimos
Os 10% mais ricos ganham 18 vezes mais que os 40% mais pobres. O 1% mais rico acumula quase o mesmo volume de rendimentos dos 50% mais pobres. Quase um terço dos 40% mais pobres não têm carteira assinada, contra 8,0% dos 10% mais ricos.
Metade da população ocupada do Brasil tem rendimento (médio mensal de todos os trabalhos) de ½ a 2 salários mínimos. No Nordeste eles são 60,0%, sendo que 16,2% da população ocupada ganham até ½ salário mínimo. Quanto ao rendimento médio mensal familiar per capita, 34,1% dos que recebem até ½ salário mínimo são por conta-própria e 31,2% são empregados sem carteira de trabalho assinada. A seguir estão os com carteira de trabalho assinada (17,5%) e os trabalhadores domésticos (14%). Quase não há militares e estatutários ou empregadores com tal rendimento.
Já na população ocupada com rendimento médio mensal familiar per capita de mais de 2 salários mínimos, os com carteira tem o maior percentual (38,3%), seguidos dos por conta-própria (21%), militares e estatutários (13,7%), sem carteira (13,6%), empregadores (11,1%) e trabalhadores domésticos (2,3%).
No País, 65,5% dos empregadores e 52,7% dos militares e estatutários possuem rendimento médio mensal familiar per capita de mais 2 de salários mínimos. Já os trabalhadores domésticos, empregados sem carteira e trabalhadores por conta-própria têm a maior proporção de trabalhadores com rendimento médio mensal familiar per capita de até ½ salário mínimo: 32,1%, 28,6% e 25,8%, respectivamente. No Nordeste, esses percentuais são bem mais elevados. Aliás, há uma clara polarização entre as regiões menos e mais desenvolvidas: no Nordeste, por exemplo, 59,4% dos trabalhadores domésticos têm rendimento médio mensal familiar per capita de até ½ salário mínimo, enquanto que no Sudeste esse percentual é de 21,9%.
A participação dos trabalhadores agrícolas no mercado de trabalho caiu para 20,6%. Enquanto os da construção civil e da administração pública mantiveram sua participação em relação a 1999, os da indústria de transformação, comércio, prestação de serviços e outros serviços aumentaram as suas. A indústria passou de 12,7% para 13,5%1. O comércio saltou de 12,1% para 14,3%. Os setores de prestação de serviços e de outros serviços foram de 17,7% para 20,2% e de 14,8% para 18,4%, respectivamente. Notou-se maior incidência das atividades de comércio, prestação de serviços e outros serviços nas áreas metropolitanas.
Em 2001, o rendimento médio dos ocupados com remuneração era R$ 595,40. Os empregadores e os militares e estatutários tinham os maiores rendimentos médios – respectivamente R$ 1044,60 e R$ 1936,10 – enquanto trabalhadores domésticos e empregados sem carteira apresentam os menores – R$ 272,60 e R$ 355,10, respectivamente. Mas um trabalhador por conta-própria no Nordeste possuía rendimento médio de R$ 270,60, enquanto o do Sudeste recebia, em média, R$ 691,70.
Os 10% mais ricos da população ocupada ganham cerca de 18,31 vezes mais que os 40% mais pobres
Em salários-mínimos, o rendimento médio dos 40% mais pobres e dos 10% mais ricos caiu em relação à 1999. Em termos quantitativos, a redução foi maior para os 10% mais ricos mas, qualitativamente, os pobres foram os mais atingidos.
A desigualdade entre os rendimentos médios dos 10% mais ricos e os dos 40% mais pobres diminuiu em todas as regiões, exceto na Sudeste, onde a desigualdade em relação a 1999 foi de 15,50 para 16,14 vezes. As maiores reduções foram na região Sul e nos estados da Paraíba, Sergipe e Amapá.
Em 2001, o 1% mais rico concentrava 13,3% do rendimento total, quase o equivalente ao percentual dos 50% mais pobres (14,3%). No Nordeste, por exemplo, a concentração de renda para o 1% mais rico era superior ao percentual dos 50% mais pobres (15,4% contra 15,3%).
Outros recortes
· 80% dos domicílios dos 10% mais ricos têm saneamento adequado, contra os 35,5% dos 40% mais pobres que, no entanto, tiveram uma melhora significativa neste indicador em relação à década passada.
· percentual de estudantes de nível superior de 20 a 24 anos nos 10% mais ricos é de 23,4%, contra 4,0% nos 40% mais pobres. Mas em 2001, esse indicador dobrou em relação ao início da década de 90.
· Entre os 40% mais pobres, a proporção de empregados sem carteira é de 31,7%, contra 8,0% entre os 10% mais ricos. Para os trabalhadores por conta-própria essa relação é de 29,8% contra 20,7%.
· Entre os 40% mais pobres, 23,0% pertencem ao setor agrícola, contra 4,1% entre os 10% mais ricos. Na indústria de transformação há o inverso: 13,5% dos 10% mais ricos, contra 9,5% dos 40% mais pobres.
Previdência e carteira
Mais da metade da população ocupada não tem seguridade social. A taxa de contribuição previdenciária da população ocupada é de 45,7% (Homens – 46,1%; mulheres – 45,1%). Os ocupados no Nordeste apresentam a menor taxa de contribuição previdenciária (27,7%) e os da Sudeste, a maior (56,7%).
Entre os 6.174.448 empregados do País, 61,5% têm carteira de trabalho e as (Mulheres - 65,4%; homens - 59,6%). Graças às mudanças na legislação trabalhista, o percentual de trabalhadores domésticos com carteira assinada aumentou significativamente nos últimos anos, chegando a 26,1% em 2001. É um percentual muito baixo, principalmente nas regiões menos desenvolvidas – justamente onde mais aumentou a taxa de contribuição previdenciária entre os trabalhadores domésticos.
Os trabalhadores por conta-própria possuem a menor taxa de contribuição previdenciária (14,9%), que tende a aumentar no Sul e no Sudeste. Os empregadores são a segunda categoria ocupacional com a maior taxa de contribuição: 58,1% (Mulheres - 63,0%; homens - 56,6%). Uma explicação para o indicador de contribuição previdenciária na economia é a qualidade dos postos de trabalho.
Desigualdades de rendimento e saneamento para os 46,5 milhões de domicílios do País
Em 37% dos domicílios nordestinos, contra 12% dos do Sudeste e Sul, a renda domiciliar per capita é de até meio salário mínimo. Há saneamento adequado em apenas 38,2% dos domicílios com este rendimento, contra os 86,1% daqueles com mais de cinco salários mínimos per capita.
Em 2001, a PNAD estimou em 46,5 milhões os domicílios particulares permanentes do País. A média de pessoas por domicílio manteve-se estável em relação a 1999: em torno de 3,6 e elevando-se para 3,9 nas áreas rurais. O Norte e o Nordeste ainda apresentam as maiores médias de pessoas por domicílio. A média nacional de densidade por dormitório permaneceu em torno de 2 pessoas, mas ainda apresenta pequenas variações inter-regionais.
Em aproximadamente 19% dos domicílios o rendimento domiciliar era de até ½ salário mínimo per capita. Ficou evidente a manutenção das desigualdades regionais: essa classe de rendimento englobava 37% dos domicílios nordestinos, contra cerca de 12% dos do Sudeste e no Sul.
Nacionalmente e regionalmente, manteve-se o padrão observado nos últimos anos: 87,8% dos domicílios do tipo casa, 11,6% apartamentos e 0,6% cômodos. A proporção de apartamentos é mais significativa nas Regiões Metropolitanas.
(Fonte: IBGE)